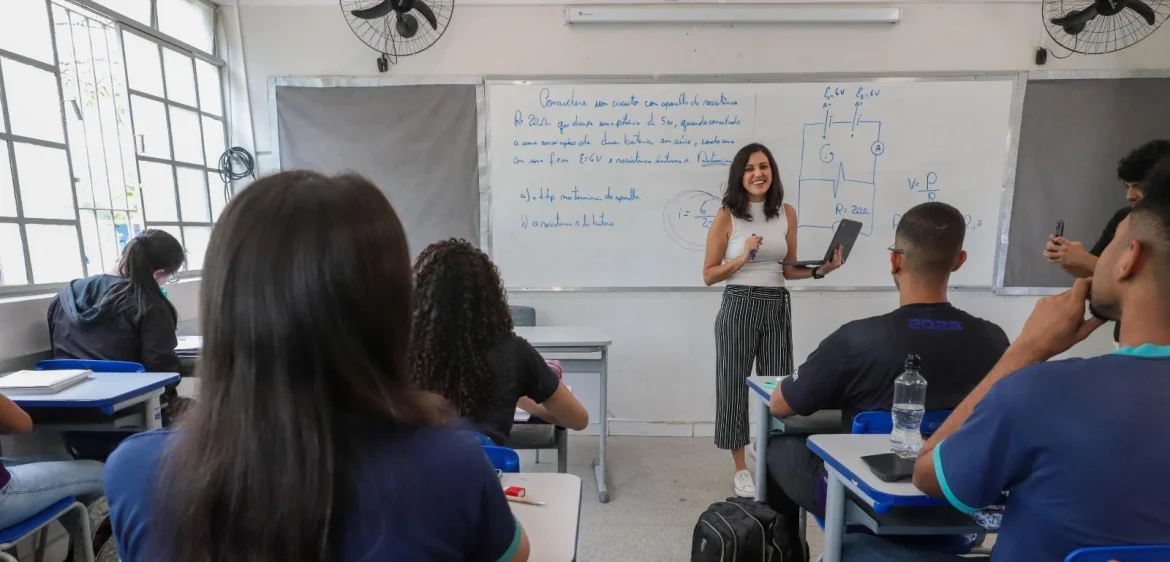Por Valter Mattos da Costa*
Hoje, 15 de outubro, é o Dia do Professor. Ontem e hoje, os professores da educação básica receberam, ou ainda devem receber, algumas lembranças carinhosas de suas direções e coordenações pedagógicas, de alguns alunos e — o que se tornou raro — de uns poucos pais. Mas, enquanto professor, posso afirmar: não temos muito o que comemorar.
Nas redes sociais, multiplicam-se as homenagens padronizadas, acompanhadas de frases prontas sobre a “importância da educação”. Governos e secretarias de ensino publicam mensagens de gratidão, como se o elogio compensasse a precariedade cotidiana de quem sustenta o sistema. Entre a retórica e a realidade, há um abismo. Enquanto isso, o professor segue exausto, adoecido e invisível — transformado em estatística, meta ou número de produtividade.
A docência, que deveria ser um exercício de criação intelectual e prática social emancipadora, foi reduzida a mera execução de tarefas. O professor tornou-se operador de planilhas, executor de planos impostos e guardião de metas inatingíveis.
O ensino foi transformado em um conjunto de indicadores, e o sentido pedagógico se perdeu em meio a plataformas, prazos e relatórios. É a pedagogia da métrica: o controle substitui a confiança, o número substitui o saber, e o ato de ensinar converte-se em performance mensurável.
O mal-estar docente tornou-se regra. O que antes era vocação agora é resistência. Resistência a jornadas duplas e triplas, a baixos salários, a escolas sem estrutura, a políticas públicas que tratam professores como peças descartáveis. Resistência ao autoritarismo das coordenações dos níveis centrais e à interferência dos que, longe das salas de aula, ditam o que deve ser ensinado, ignorando o chão concreto onde a educação acontece. É o professor quem enfrenta o barulho ensurdecedor, o cansaço, o desinteresse, as violências — e ainda precisa sorrir para as fotos oficiais do “Dia do Professor”.
A lógica neoliberal vem penetrando o campo educacional com a força de um dogma religioso. O discurso do “empreendedorismo” e da “inovação” — que já alcança outras categorias — pode vir a mascarar a perda de direitos também na docência. Há quem já fale, por exemplo, em “pejotização”, que tem potencial para ameaçar os vínculos trabalhistas estáveis. Cada vez mais se ouvem expressões como “gestão eficiente” e “resultados mensuráveis”, como se a educação pudesse ser administrada como empresa e o aluno reduzido a cliente.
Antes de tudo, vale lembrar que existe uma lei federal — Lei nº 11.738/2008 — que institui o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica. Contudo, não raro municípios e estados deixam de cumpri-la, sob o pretexto de limitações orçamentárias ou de “autonomia local”.
Esse descumprimento sistemático expõe a fragilidade institucional da valorização docente: o piso deveria ser o patamar mínimo garantido, mas, em muitos casos, é apenas uma referência formal, ignorada na prática.
A negligência legal reforça o fosso entre o discurso de valorização e a realidade salarial concreta, mantendo os professores submetidos à instabilidade e à desvalorização. No dia de hoje, podemos dizer que estamos cansados dos tapinhas nas costas acompanhados de um “parabéns, mestre” vazio.
Caso os professores não se mobilizem coletivamente, futuramente esse modelo pode consolidar-se como realidade plena, transformando o ofício e potencializando a precarização em curso em nosso segmento — e a relação ensino-aprendizagem corre o risco de extinção simbólica.
As consequências do que hoje ocorre com os professores são visíveis: afastamentos por depressão e ansiedade, desmotivação crescente, fuga de profissionais qualificados, e uma geração de jovens que, ao olhar para o ofício, não vê horizonte de dignidade.
O professor, que poderia ser um dos principais símbolos da nação, foi rebaixado ao status de obstáculo — pois, dentre outras coisas, “não motiva os seus alunos”. O Estado que o homenageia é o mesmo que o abandona. A sociedade que o aplaude é a mesma que o culpa pelo fracasso do sistema.
Por outro lado, resistem no horizonte da educação pública redes de articulação que disputam concretamente esse cenário. Neste caso podemos citar a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (FINEDUCA) e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
A Associação atua no debate técnico e legislativo do financiamento educacional, produz notas técnicas como a conjunta com a Campanha sobre o CAQi (Custo Aluno-Qualidade Inicial) para pressionar por valores mínimos que sustentem uma educação de qualidade.
Já a Campanha Nacional, que reúne mais de 200 entidades em todo o país, historicamente interveio nas negociações do Fundeb, na formulação do Plano Nacional de Educação e na defesa da constitucionalidade do piso, exercendo papel de interlocução social frente ao Estado.
Essas entidades representam um contraponto estratégico e dialético ao avanço das forças privadas: não se opõem à inovação em si, mas insistem que ela não pode ser veículo para retirada de direitos e para a mercantilização da educação.
Além disso, entre as principais bandeiras da Fineduca e da Campanha Nacional está a defesa de 10% do PIB para a educação pública, condição mínima para garantir qualidade e equidade. Ambas reforçam que o subfinanciamento perpetua a desigualdade e que sem recursos públicos suficientes não há política educacional sustentável — por isso, lutam para que o Estado priorize a educação sobre as restrições fiscais e os interesses privados.
Já no polo oposto, destacam-se aparelhos privados de hegemonia, ligados ao capital financeiro, que atuam para converter a educação em mercado. São fundações, ONGs e institutos com elevado poder de influência e recursos, como a Fundação Lemann, MegaEdu, Todos Pela Educação, CEIPE, Fundação Santillana, além de grupos que financiam projetos educacionais como Itaú Social, Fundação Bradesco e Instituto Unibanco — atores que não só participam de políticas públicas como ajudam a modelá-las.
Esses dispositivos privados operam numa lógica estratégica: introduzem discursos de inovação, eficiência e “gestão moderna” enquanto competem pela condução da educação pública (cujo conceito está em disputa), muitas vezes sem base na experiência concreta da sala de aula, subalternizando o professor e redimensionando a educação como negócio — justamente o alerta que Fineduca e a Campanha se esforçam para contrapor com base em evidências e compromisso público.
Neste dia, portanto, não há o que comemorar. Há o que denunciar. Há o que reivindicar. A data deveria servir não somente à celebração, mas à consciência crítica de que não há projeto de nação sem valorização de seus educadores. Enquanto a escola for vista como depósito de problemas sociais e o professor como culpado por sua própria precarização, a educação continuará servindo mais ao capital do que à cidadania.
Talvez, um dia, possamos comemorar de fato. Quando o professor deixar de ser mártir e voltar a ser sujeito; quando o Estado compreender que investir em educação não é custo, é soberania; quando ensinar não significar resistir, mas criar. Até lá, o 15 de outubro seguirá sendo um lembrete — não apenas de homenagem, mas principalmente de luta.
*Professor de História, especialista em História Moderna e Contemporânea e mestre em História Social, todos pela UFF, doutor em História Econômica pela USP e editor da Dissemelhanças Editora