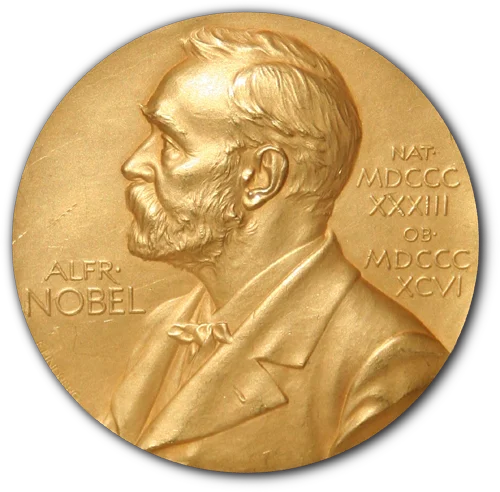Em 1888, um jornal parisiense, ao noticiar a morte de seu irmão Ludvig, publicou por engano o obituário de Alfred Nobel:
“O mercador da morte está morto.”
O texto, impiedoso, o definia como “o mercador da morte”, um homem que fez fortuna ao inventar maneiras de mutilar e matar mais pessoas, mais rapidamente do que nunca. A leitura de sua própria morte em vida foi um choque para Alfred Nobel. O inventor da dinamite, um homem que se considerava pacifista, confrontou o legado de destruição que deixaria para a posteridade. Desse confronto, nasceria um dos maiores paradoxos da história moderna: o Prêmio Nobel da Paz.
Em seu testamento, assinado em 1895, Nobel destinou a maior parte de sua vasta fortuna, acumulada com mais de 350 patentes de explosivos e armamentos, à criação de prêmios que honrassem os grandes benfeitores da humanidade. Entre eles, o mais nobre e, ironicamente, o mais problemático: um prêmio para quem mais trabalhasse pela “fraternidade entre as nações, pela abolição ou redução de exércitos permanentes e pela realização e promoção de congressos de paz”. Nascia ali uma tentativa de redenção, um esforço para lavar com as águas da filantropia uma fortuna manchada pelo sangue da guerra. No entanto, mais de um século depois, o prêmio que deveria absolver o legado de Nobel tornou-se, ele próprio, um espelho das contradições, hipocrisias e jogos de poder que definem a busca humana (ou do ocidente) pela paz.
A paz dos poderosos
A história do Nobel da Paz é marcada por uma galeria de laureados que desafiam a própria definição de paz. A contradição mais flagrante talvez seja a premiação de figuras que, longe de abolir exércitos, os comandaram; que, em vez de promover a fraternidade, aprofundaram conflitos. Em 1973, o prêmio foi concedido ao longevo senhor da guerra, Henry Kissinger, então Secretário de Estado dos EUA, por negociar um cessar-fogo no Vietnã. A decisão foi tão controversa que dois membros do comitê renunciaram em protesto, e o New York Times apelidou a honraria de “Prêmio Nobel da Guerra”. Kissinger, o arquiteto da realpolitik, esteve envolvido nos bombardeios secretos do Camboja, no apoio a ditaduras sangrentas na América do Sul e na proliferação de uma doutrina nuclear que via armas atômicas como ferramentas de campo de batalha. Sua “paz” era a paz dos impérios, negociada sob a sombra da força.
Décadas depois, em 1994, o prêmio foi dividido entre Yasser Arafat, Shimon Peres e Yitzhak Rabin pelos Acordos de Oslo. Novamente, a controvérsia explodiu. Um membro do comitê renunciou, recusando-se a endossar a premiação de Arafat, por considerar o mesmo um líder com um longo histórico de “atividades paramilitares”. Peres, por sua vez, foi uma figura central no desenvolvimento do arsenal nuclear de Israel e, como Ministro da Defesa, supervisionou a expansão de assentamentos ilegais e foi politicamente responsável pelo massacre de Qana, no Líbano, em 1996, onde mais de 100 civis foram mortos em um complexo da ONU. O prêmio, mais uma vez, parecia recompensar não a paz em si, mas o poder de sentar-se à mesa de negociação, independentemente do sangue derramado para chegar lá.
A arquitetura da hipocrisia
As contradições do Nobel não são acidentes, mas o resultado de uma estrutura inerentemente violenta. Em outras palavras, são parte das lógicas mais perversas do colonialismo capitalista. O prêmio não é concedido por um corpo global de especialistas em paz, mas por um comitê de cinco membros nomeados pelo Parlamento da Noruega, um país membro da OTAN. Ora, essa estrutura garante que interesses nacionais e o clima político prevalecente no assim chamado mundo ocidental possam influenciar o processo de seleção. A subjetividade é a regra, e o sigilo das deliberações por 50 anos impede qualquer escrutínio público, alimentando suspeitas de que as decisões são guiadas mais por considerações geopolíticas do que por uma avaliação objetiva.
Essa estrutura produz um viés ocidental e eurocêntrico persistente. A paz que o Nobel celebra é uma paz que serve aos interesses e narrativas ocidentais. O prêmio torna-se um instrumento de soft power, usado para legitimar aliados e estigmatizar adversários. Essa lógica explica a premiação de figuras como Barack Obama em 2009, com apenas nove meses de mandato e enquanto supervisionava duas guerras. O próprio Obama admitiu sua perplexidade. A premiação foi um gesto de esperança, um endosso político, não um reconhecimento de conquistas. Ainda mais em se tratando de um presidente que foi o campeão de ataques por drones em seu mandato.
O fator Gandhi
A maior crítica ao Nobel da Paz, no entanto, não reside em quem o ganhou, mas em quem nunca o ganhou. Mahatma Gandhi, o maior símbolo da resistência não-violenta do século XX, foi indicado cinco vezes, mas nunca recebeu o prêmio. Sua omissão assombra o comitê até hoje, que já a admitiu como seu maior erro histórico. A ausência de Gandhi na lista de laureados é a prova definitiva de que o prêmio nunca foi sobre a pureza do pacifismo. Gandhi era um anticolonialista, uma ameaça à ordem imperial que a Noruega e seus aliados representavam. Premiá-lo seria subversivo demais.
Sem redenção
Alfred Nobel buscou, em seu testamento, uma forma de reescrever seu legado, de transformar o “mercador da morte” em um patrono da paz. Obviamente fracassou. Afinal, sua vida foi dedicada à guerra e à morte. O prêmio que leva seu nome, em vez de redimir sua memória, tornou-se um monumento à hipocrisia ou um trágico resumo das falácias de um mundo movido pela guerra. Ao premiar senhores da guerra, ao ignorar pacifistas genuínos e ao servir como ferramenta geopolítica, o Nobel da Paz perpetua a mesma lógica de poder que Nobel, em seu leito de morte, talvez quisesse expiar.
O paradoxo final é que um prêmio nascido da culpa sobre a morte tornou-se, na maioria dos casos, cúmplice em legitimá-la, conferindo uma aura de respeitabilidade a figuras cujas ações contradizem fundamentalmente o ideal de paz. A paz de Nobel é a paz dos cemitérios, a paz dos poderosos, a paz que silencia, não a que liberta. O mercador da morte pode estar morto, mas seu espírito, transmutado em um prêmio de ouro, continua a assombrar o mundo com a promessa irrealizada de uma paz genuína. Quanto à Maria Corina Machado, a venezuelana recém-laureada, que sua paz esteja vinculada aos EUA de Trump e à inalienabilidade da propriedade privada, tudo isso não deveria espantar os críticos. Esta é a verdadeira face do Nobel, o “bom e velho” mercador e mercenário da morte.